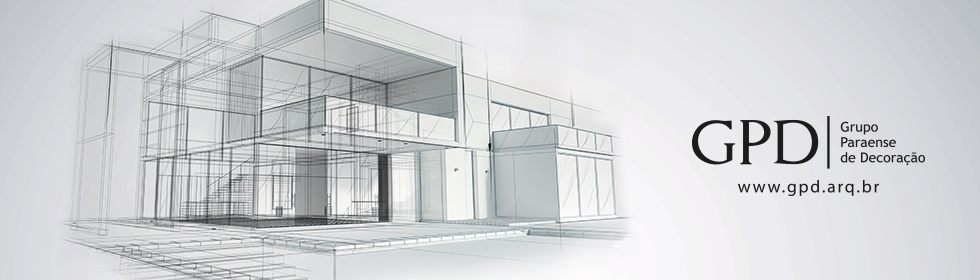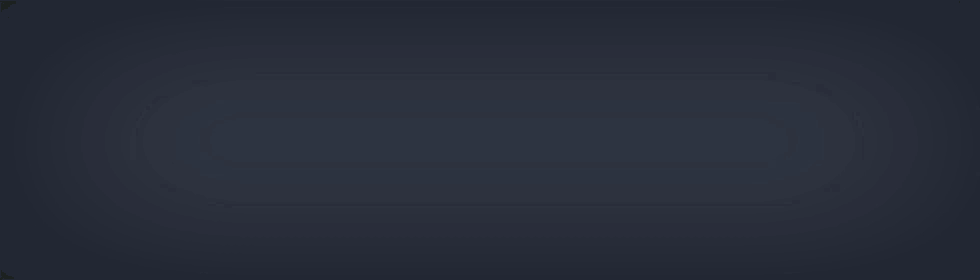|
| Veríssimo: décadas de bom humor e uma visão apurada dos assuntos que mexem com a vida brasileira |
Luís Fernando Verissimo disse, certa vez, que pensou em estudar arquitetura. “Como todo o mundo”, justifica, em tom de defesa. A ideia não evoluiu. Sem a necessidade de um título acadêmico, o gaúcho, hoje com 74 anos, terminou seguindo o destino que ele imaginava para todos os estudantes da arquitetura: fazendo outra coisa distinta da profissão. No caso de Veríssimo, o “outra coisa” é vago: trabalha como cronista - publicado por jornais como O Estado de São Paulo, O Globo e Zero Hora -, é romancista, desenhista, escritor, jornalista, ex-redator publicitário, além de saxofonista. Reconhecidamente uma das grandes figuras da cultura contemporânea do Brasil, Veríssimo, modesto, prefere se definir como alguém que, não tendo terminado outro curso, faz uma coisa estranha: “Dar palpite sobre todas as coisas”.
O autor esteve em Belém durante a última edição da Feira Pan-Amazônica do Livro, evento que já havia o trazido à capital paraense anteriormente. Nada mais justo para um homem das letras. A fama de introvertido que carrega, amplificada pelo seu pouco falar e a preferência pelo pensar, foram por água abaixo. Durante o encontro, tirou fotos e distribuiu autógrafos para fãs de várias gerações, e até para as senhorinhas que, ao vê-lo do lado do amigo Zuenir Ventura, questionavam sua identidade. “Eles falam ‘brasileiro’?”, indagou uma, antes de posar sorridente para a foto com o criador de personagens antológicos como o Analista de Bagé e a Velhinha de Taubaté. Feiras Literárias, inclusive, costumam ser marcantes para Veríssimo: em 1981, o recém-lançado “Analista de Bagé” teve sua primeira edição esgotada na Feira do Rio Grande do Sul.
Na sua terceira visita a Belém, Veríssimo atendeu também o rádio, jornal e a TV, e, mesmo depois do horário estipulado para as conversas, cedeu seu tempo para responder às perguntas da revista Leal Moreira. A entrevista aconteceu dentro de uma van, onde tive o privilégio de passar 20 minutos na companhia do simpático escritor, enquanto Veríssimo e Ventura eram levados a um restaurante da cidade. No bate-papo, assuntos gerais, como fé, morte, futebol, educação, e a confissão de que mal podia esperar para degustar o Filhote, peixe amazônico reconhecido pelo sabor único. Tudo em clima de conversa, tal qual o último livro com sua participação, “Conversa sobre o Tempo”, no qual Veríssimo e Ventura, mediados pelo jornalista Arthur Dapieve (colunista da Revista Leal Moreira), destilam comentários sobre temas gerais. Confira:
Qual sua relação com Belém? Quantas vezes veio à cidade?
Acho que é a terceira vez que venho a Belém. Vim à Feira Pan-Amazônica do Livro há cinco anos. Sempre volto com muito prazer porque acho uma cidade muito interessante. É a terceira vez.
Como você analisa o atual momento do impresso, do livro? O Jornal do Brasil hoje só tem edição virtual. Os e-books se proliferam, como o kindle, que pode armazenar dois mil livros. O livro, no futuro, está fadado ao esquecimento? Ou será como o vinil na música, que virou algo cult e hoje coexiste com as novas tecnologias?
É, e o vinil também está voltando, né? Muita gente diz que o vinil é superior ao CD e tal. Acho que sim. Quem foi criado com os livros, com o papel, tem um certo preconceito, custa a aceitar que possa acabar o impresso, o jornal, o livro. Mas acho que também é inevitável. A tecnologia muda, coisas novas surgem. A gente pode não aceitar, mas é inevitável. Acho que a gente deve começar a se preocupar quando inventarem um computador que escreva sozinho. Aí, sim, vai ser de se preocupar. Mas fora isso, acho que é uma coisa natural. A gente lamenta, mas é natural.
O escritor José Saramago classificou o twitter como uma ferramenta que prova uma tendência humana de involução quanto à linguagem, exagerando que seria uma volta aos grunhidos como forma de comunicação. Você concorda?
É um certo exagero do Saramago, mas não deixa de ser uma invenção. A mensagem do twitter é limitada pelo tamanho. Quer dizer, ao mesmo tempo que incentiva a concisão, também é um sacrifício da palavra, uma restrição, limitação. Nesse sentido acho que é ruim. Confesso que não sei bem como funciona o twitter. Tem um twitter que dizem que é meu, mas não é não. Nem sei bem como funciona.
E como você vê atribuição de textos na internet à sua pessoa?
Pois é, isso é algo que exige uma certa resignação. Porque não tem remédio, não tem o que fazer, não tem como evitar. E a grande maioria dos textos que circulam na internet com a minha assinatura não é de minha autoria. Geralmente quando é falso é “Luiz”, com Z, o meu é com S. Fora isso há textos bons, textos ruins. Acho que preocupante seria se um dia um desses textos fosse difamante, ou coisa assim, que me processassem por algo que não escrevi.
Há alguma situação peculiar envolvendo especificamente este assunto?
Tem um texto que está na internet que se chama “Diga não às drogas”. No caso drogas são as duplas sertanejas. Isso já me valeu vários xingamentos. Essa crônica termina dizendo: “Não confie em nenhum cantor que saiu de Goiânia”, algo nesse sentido. E já recebi várias cartas de Goiânia reclamando.
E quanto às diferenças de estilo literário entre crônicas e romances. Como administrou essa diferença de linguagens na sua produção?
Eu demorei bastante para escrever romances, sempre escrevi crônicas. Fui meio que instigado a escrever um romance. A diferença óbvia é que o romance tem um texto longo, enquanto que a crônica a gente liquida em menos tempo e com menos espaço. É preciso ter outra visão, saber que é uma construção maior do que a crônica, obviamente, uma elaboração diferente. Escrevendo crônica a gente tem a tentação de amarrar a crônica, né? Depois de 35 linhas, amarra e termina. Romance, obviamente não. Você tem que deixar para dar uma amarrada lá no fim do livro, que vai custar a chegar. Então é bem diferente.
Sentiu responsabilidade maior ao escrever um romance, pelo fato de seu pai (Érico Veríssimo) ser um grande escritor?
Não, não, conscientemente, não. Talvez, inconscientemente, sim, talvez tenha me afetado de alguma maneira. Mas conscientemente, não. Mesmo porque não foi uma iniciativa minha. No caso o primeiro romance (O Jardim do Diabo) foi um pedido de uma agência de publicidade em que eu trabalhava, a AmPm. Eles queriam dar um livro meu de brinde no fim do ano, mas queriam que fosse algo original. E aí eu resolvi enfrentar o romance. Mas não houve nada consciente, não.
Quem são hoje os bons cronistas brasileiros?
Olha, cronistas, gosto muito do Zuenir, não só porque estamos na presença dele, mas estamos com bons romancistas. O Milton Hatoum eu gosto muito; o Moacyr Scliar, que também é cronista... Aliás, o Milton Hatoum também está fazendo crônicas. E o Jabor eu acho que escreve muito bem. Nem sempre concordo com o que ele escreve, mas acho que escreve muito bem. No Sul está aparecendo gente muito boa, o Carpinejar eu acho muito engraçado, muito bom. Seriam esses.
Você acredita que hoje no Brasil é mais difícil fazer humor depois que se instituiu a cartilha do “politicamente correto”? Isso tolhe o humor que você gosta de utilizar nos textos?
O meu acho que nem tanto. Meu humor não é tanto de provocar gargalhadas. É uma coisa mais... Pelo menos pretende ser uma coisa mais sutil. Agora o humor que faz o Casseta e Planeta, na televisão, que é um humor escrachado, acho que sim. Mas parece que eles não estão dando tanta atenção a esse negócio de politicamente correto. Ainda apareceu essa lei, né? Essa bobagem de lei da mordaça, que felizmente não vingou. O humor não deve ter nenhum tipo de limitação, fora os limites do bom senso e do bom gosto. Fora isso, não deve ter restrição nem limitação.
Qual a sua análise do comportamento da Seleção Brasileira na última Copa do Mundo?
Eu sempre defendi o Dunga. Sempre achei que ele estava sendo meio injustiçado pela crônica do centro do país, do Rio e de São Paulo. Mas acho que ele exagerou um pouco na truculência com a imprensa. Isso criou um ambiente ruim. Não só na relação dele com a imprensa, mas dentro da Seleção também pode ter criado um clima ruim. Não sei se isso influenciou o resultado, a derrota para a Holanda (2 a 1 nas quartas de final), mas foi ruim. Um clima ruim. E aquela derrota para a Holanda foi um mistério, porque o primeiro tempo foi o melhor futebol que o Brasil jogou na Copa. E no segundo tempo, desapareceu. Não sei o que houve no vestiário. Talvez alguma coisa tenha havido no vestiário da Holanda, que mudou o modo de jogar. Mas, em geral, foi uma Copa boa. Bons jogos, o resultado... A seleção da Espanha apresentou um futebol muito bonito. Acho que foi uma boa Copa.
Os técnicos brasileiros gostam de se sentir “íntimos com Deus”. Você enxergava isso no Dunga?
Acho que essa é uma questão que ainda não foi devidamente analisada, a coisa da religião. A maioria dos jogadores é evangélica e tem essa coisa de pedir a Deus a vitória. É a mesma situação que ficam os militares, os dois lados apelam a Deus pela vitória. Não sei se o Dunga pessoalmente seja muito religioso, mas o clima na Seleção era aquela coisa evangélica. De agradecer a Jesus. E eu acho isso ruim.
A FIFA inclusive se posicionou contra a comemoração do Brasil na Copa das Confederações...
É, todo mundo ajoelhado. É uma forma de prepotência, né? Porque quem não é religioso tem que participar daquilo.
O último livro. Questões de vida e religião?
Acho que sim, mas o negócio é a gente viver sem nenhuma crença, sem acreditar em Deus ou em vida após a morte e ao mesmo tempo ter uma vida de acordo com uma moral, com uma ética e tal. Não contando com o castigo ou a recompensa divina, mas viver bem consigo mesmo. Então acho que o grande problema é esse. Não ter uma vida de crença mas ao mesmo tempo levar uma vida direita.
Sem agredir os outros, passar por cima dos valores dos outros...
Exatamente.
A forma de lidar com a morte, você falou que após os trinta anos passou a haver uma preocupação recorrente com ela. Existe algum projeto que você pense em concluir, uma necessidade pessoal, algo para deixar para a posteridade, alguma coisa que você sinta que tem que fazer?
Não (hesitante). Na verdade, não. Não penso nesse sentido, não. Eu quero é viver o máximo possível. E, é claro, aproveitar minha família. Agora estou com uma neta nova. Ver até onde posso acompanhá-la, a vida dela, o que vai ser. Mas não tenho assim nenhum projeto de deixar um legado. Não penso nisso.
Transpondo a questão da morte para as personagens. Você criou figuras memoráveis como o Analista de Bagé, a Velhinha de Taubaté, as cobrinhas. Como você administra a vida de um personagem, como define o tempo certo de matar aquela personagem?
Acho que é quando a gente se chateia deles, quando não tem mais nada para dar e não quer se repetir, ou continuar se repetindo. Aí elimina o personagem. Por exemplo, a Velhinha de Taubaté, a última pessoa no Brasil que acreditava no governo. Matei a Velhinha depois do escândalo do Mensalão, que ela acreditava no governo e tal, e quando viu que estava até o Palocci envolvido no Mensalão, achou melhor morrer, porque ela também não acreditava em mais nada. Então a Velhinha foi por causa dessa situação. E as cobrinhas, a tira das cobras, é porque estava fazendo coisas demais então resolvi cortar, trabalhar um pouco menos.
Sobre a Velhinha de Taubaté, a morte pode ser interpretada como uma metáfora também para suas convicções políticas?
Não sei. Acho que não, talvez em um certo sentido. Eu nunca escondi minha simpatia pelo PT e aquele negócio do Mensalão foi brabo. Até agora muito mal explicado. Então houve um desencanto meu também. Não sei se projetado na Velhinha de Taubaté, que acabou morrendo por isso.
De desgosto, né?
De desgosto...
Você foi educado fora do país, não é?
Em parte. Dos 7 aos 9, depois dos 16 aos 20 anos nos Estados Unidos.
Analisando os dois modelos de educação, quais as carências da educação brasileira em relação à norte-americana?
Bom, eu não poderia... Em primeiro lugar fui um péssimo aluno.
As “Comédias para se ler na escola” (um dos livros lançados pela editora Objetiva com crônicas do escritor) são prova disso?
É. Eu tinha horror da escola. E depois interrompi meus estudos, porque quando voltei dos Estados Unidos, com 20 anos, teria que fazer mais uns dois anos do... não sei como chamava, científico ou clássico, hoje seria o ensino médio. Parei de estudar, então não poderia fazer uma comparação assim... Acho que o que eu posso comparar é o fato de dos 16 aos 20 anos, que é geralmente quando o cara se politiza, se forma politicamente, estava lá e não no Brasil. Então a minha politização, vamos dizer assim, foi com aquela situação americana, o McCarthismo, o fim da segregação racial nas escolas e tal. A Guerra Fria. E não tanto com o que estava acontecendo no Brasil na época. Essa foi uma diferença marcante.
Como foi a oportunidade de participar das conversas que geraram o livro, com um grande amigo, o Zuenir Ventura, e mediado por uma pessoa que você conhece, o Arthur Dapieve, em um clima de conversa, de amizade, em uma fazenda?
Eu acho que a ideia do livro é muito boa, de reunir duas pessoas, no nosso caso dois amigos. Mas não precisa ser necessariamente dois amigos para falar sobre um assunto específico. O próximo livro que será com o Frei Betto e um cientista, que vão discutir religião e ciência. Então acho que essa ideia foi muito boa. No nosso caso foi melhor ainda porque eram dois amigos que tinham o hábito dessa conversa. Foi muito bom.
Vocês chegaram a discorrer sobre temas que não haviam conversado antes, ou aquilo são conversas que acontecem em momentos de intimidade de vocês?
Eu até fiquei sabendo coisas da vida do Zuenir que até então não sabia. Nesse sentido foi também muito interessante.