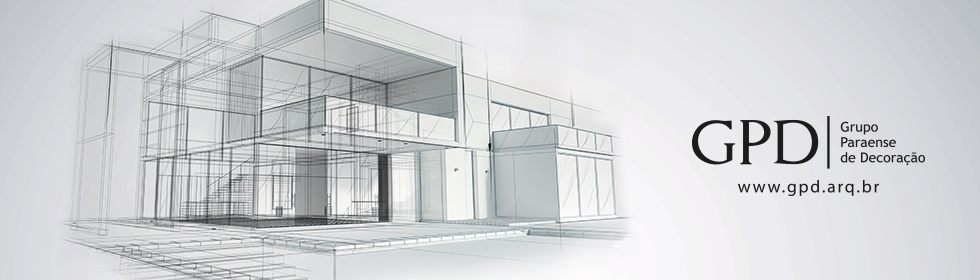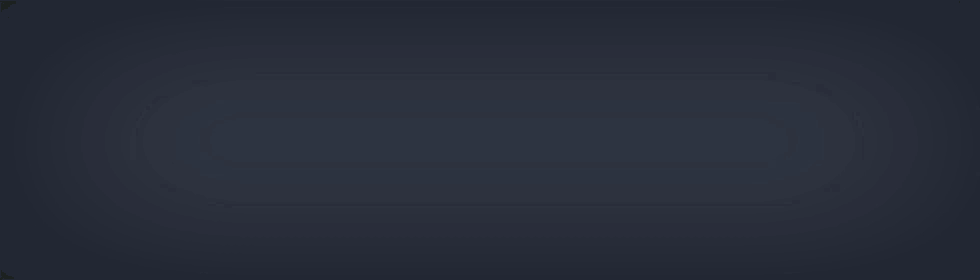É difícil encontrar Daniela Martins sem um sorriso no rosto. Assustadoramente ativa e disposta, a chef do Lá em Casa herdou do pai - o saudoso Paulo Martins - o restaurante, o festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense e a missão de levar a culinária local a todos os pontos do país. Em meio às muitas memórias da infância, que se confundem com a própria história do estabelecimento, Daniela volta a ser uma menina. Embora só fale olhando no olho, dá pra perceber o momento em que ela se distancia, imersa em lembranças dos tempos idos. Apaixonada pelo pai e pelo restaurante onde cresceu, ela se emociona em diversos momentos ao falar dessa relação. Hoje, muito mais consciente do papel que Paulo Martins exerceu (e ainda exerce) na divulgação da cultura gastronômica do Pará, Daniela toma para si - com muita naturalidade e com seu sorriso habitual - a responsabilidade de manter vivo o projeto sustentado por ele. Em uma conversa comovente, a chef falou da relação familiar por trás de um dos mais tradicionais restaurantes de Belém - ontem, hoje e amanhã. Confira:
É difícil encontrar Daniela Martins sem um sorriso no rosto. Assustadoramente ativa e disposta, a chef do Lá em Casa herdou do pai - o saudoso Paulo Martins - o restaurante, o festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense e a missão de levar a culinária local a todos os pontos do país. Em meio às muitas memórias da infância, que se confundem com a própria história do estabelecimento, Daniela volta a ser uma menina. Embora só fale olhando no olho, dá pra perceber o momento em que ela se distancia, imersa em lembranças dos tempos idos. Apaixonada pelo pai e pelo restaurante onde cresceu, ela se emociona em diversos momentos ao falar dessa relação. Hoje, muito mais consciente do papel que Paulo Martins exerceu (e ainda exerce) na divulgação da cultura gastronômica do Pará, Daniela toma para si - com muita naturalidade e com seu sorriso habitual - a responsabilidade de manter vivo o projeto sustentado por ele. Em uma conversa comovente, a chef falou da relação familiar por trás de um dos mais tradicionais restaurantes de Belém - ontem, hoje e amanhã. Confira:
A Paula não quer nem ouvir falar em restaurante. Se ela puder, não passa nem na porta. Eu cresci dizendo que ia assumir o restaurante e acabei assumindo. São essas coisas que a gente diz quando criança e nem leva muito a sério. E a Joana é quem administra, o lado carrasco da família (risos), mas sem ela a coisa não anda. A cozinha é uma coisa extremamente emocional. Tem que ter alguém pra te segurar. Assim a gente se equilibra, uma não funciona sem a outra. É assim que a gente sobrevive nessa guerra diária, que é continuar o trabalho de 40 anos do papai e da vovó, que é o mais emocionante.
A gente cresceu sem ter pai e mãe no sábado, domingo, dia santo, feriado. Nas férias, a gente conseguia viajar com a mamãe, mas nunca com o papai. Papai passava às vezes um fim de semana com a gente, e isso quando dava. A Paula sofreu muito com isso, eu também senti. Aí decidi não ter a mesma rotina. Tenho um acordo com as minhas filhas, pra que elas não sintam tanto a minha ausência. Mas é uma rotina muito desgastante.

(Daniela começa a chorar) Ele era um excelente pai. Não dá pra defini-lo. Como explicar ele ser um excelente pai se ele era tão ausente? Mas ele sempre fez tudo pela gente. Às vezes, a gente se irritava tanto com ele a ponto de querer matar (ri entre lágrimas). Mas se a gente parar pra pensar, até o correr atrás do legado de levar a gastronomia era garantir um futuro pra gente. Não era só o que ele acreditava. Por isso a missão de não deixar acabar. Papai era um ser humano muito bom. Estressado, mas muito bom.
Muito, muito. Ele era um homem pra sustentar sete mulheres, entre mãe, tia, irmã, mulher e filhas. E todo mundo dependia dele. A vovó ajudou muito, mas a responsabilidade sempre caiu nele. Ele administrava a empresa. E quando o restaurante começou, ele cozinhava e administrava.
Eu tenho certeza que ele nunca imaginou isso. Ele não preparou a gente pra cuidar da cozinha. Primeiro, porque ele achava que ele era imortal, e nunca se preocupou em fazer um substituto. E segundo, porque eu acho que, no fundo, ele nunca acreditou que alguma de nós daria conta do recado. Porque não é fácil. Ele sabia que o Lá em Casa não acabaria por falta de administrador, mas ele não acreditava que alguém iria assumir a briga diária com as panelas.
Engraçado que na primeira edição eu nem estava em Belém. Comecei a participar da segunda em diante, vi o festival ainda pequenininho. Conheço o projeto desde que era um embrião. Sempre muito estressante, mas sempre muito gostoso de fazer. Sempre estivemos perto dos chefs convidados, e cada sabor que eles descobriam era uma reação impressionante. As caras deles. E todo ano sempre tem um muito surpreso. O gostoso é justamente isso: apesar de as coisas chegarem lá fora e eles saberem como utilizar, quando chegam aqui eles ainda conseguem descobrir ainda mais coisas novas. As frutas, por exemplo, não chegam lá fora. Só chega o básico, e numa qualidade inferior à que a gente está acostumada. O piquiá, o taperebá, o uxi... Essas coisas eles não dominam. A gente tem uma diversidade de produtos, de pratos típicos mesmo, que impressiona. O paraense tem tanto prazer de comer a sua própria comida que leva cada um dos seus ingredientes para a cozinha. Isso vai se expandindo. Hoje, todo restaurante contemporâneo do Rio ou de São Paulo tem pelo menos um prato com tucupi ou alguma sobremesa de cupuaçu. É gostoso ver que o trabalho de vida inteira funcionou.
Foi. O papai acreditou muito. Ele foi um guerreiro quando ninguém dava valor para a gastronomia. Ele teve o apoio de grandes chefs de fora, claro, porque não adiantava fazer o festival se as pessoas não acreditassem no que ele tinha. E isso ajudou muito ele a dar continuidade, mesmo tirando dinheiro do bolso o tempo todo. Ele pagava pra divulgar o Pará.
Eu tenho duas filhas. A mais nova, Carolina, vem pra cozinha vestida de chef, com avental, chapéu e tudo. Ela só não vai assumir o restaurante se ela mudar muito. Mas ela tem tudo pra cedo estar na cozinha. E sinceramente, eu já começo a pensar onde colocá-la pra estudar gastronomia. Dia desses, ela falou que fez um jantar igual ao meu primeiro: um desastre (risos). Mas ela fez sozinha. Eu tava trabalhando e ela resolveu cozinhar sem orientação nenhuma, com 10 anos. Na idade dela, eu não me atreveria. Por isso que eu digo que tá no sangue, corre na veia.