Vibração que não respeita diapasões. Pulso que quebra barras de compasso - vira pulsação, pulsão de vida. A tessitura não se orienta pelas linhas da partitura: sai dos graves do curimbó e alcança o silvo dos fogos de artifício que anunciam o fim de mais uma festa de aparelhagem. Tudo extrapola, tudo transita, tudo convida.
A música paraense não se percebe só pelo ouvido. Ela te tira para dançar, sugere cores, empurra a mística das erveiras pelas narinas. Antes de ganhar o Brasil nas trilhas de novela e pistas de dança, já fazia festa nos sentidos aqui. Andar pelas ruas de Belém é assistir a um povo cantar e dançar o seu próprio som. A população consome seus hinos, se vê neles. Rodopia em salões degustando seus próprios hits.
É bonito sim ver o resto do mundo descobrir uma cena tão diversa, fervilhante, caótica e profícua. Mas não foi preciso o reconhecimento externo para que o paraense soubesse o que sente diariamente, no rádio, no baile, na feira: a gente toca o que toca a gente, e o que toca a gente é de uma riqueza ímpar. A revista Liv encarou o desafio de tentar traduzir um pouco dessa sonoridade. As próximas páginas te chamam para abrir os ouvidos e descobrir as muitas frequências desse país que se chama Pará.
O início da história
Carimbós, bregas, lambadas, guitarradas, cúmbias, boleros... São muitos os gêneros que embalam o imaginário popular do paraense. A construção dessas nuances passa, naturalmente, por muita história – sobretudo pela história da nossa concepção como povo. “A ideia de separação entre música, festa, dança e corpo é uma ideia eurocêntrica, algo que não teve aqui na nossa região até por conta de um relativo isolamento em relação ao restante do país”, explica Andrey Faro, professor da Universidade Federal do Pará que pesquisa música e festa na Amazônia.

O professor pontua que mesmo a religião está fortemente entrelaçada com nossa musicalidade, fruto das raízes africanas e indígenas no estado. “A nossa ideia de música está inerentemente misturada com a ideia de festa. Isso aí vem exatamente da influência banto na nossa região, que não se separa também da própria ideia de religiosidade”, analisa. “Por exemplo, o carimbó ocorria nos meses de dezembro e janeiro como recurso devocional a determinados santos cultuados pelo catolicismo popular na Amazônia. É um elemento de liturgia do catolicismo popular”.
Inicialmente desprezado na capital por sua associação imediata à música negra e a populações escravizadas, a narrativa organizada de um carimbó que simboliza a união dos povos indígenas, africanos e europeus só ocorreu bem mais na frente – como um filho reconhecido a partir de certa conveniência. “O carimbó é notadamente uma variação dos batuques de grupos bantos, que também influenciaram a expansão do samba e da música na Bahia, Pernambuco, Maranhão e Amapá. Na Amazônia, nós fomos estabelecendo a variação local desses mesmos batuques com elementos indígenas; e aí foram acrescentados elementos formais de influência da música europeia. Mas nos centros urbanos havia certo receio. Torciam o nariz por ser uma música marginalizada”, conta Faro. “A famosa ‘fábula das três raças’ veio ao encontro do carimbó apenas no final dos anos 60. É uma tentativa de historicamente situar a Amazônia no discurso, promovido pela ditadura militar, de integração nacional”.

Enquanto Belém ainda tateava a sua relação com a música que hoje é a maior referência da nossa sonoridade, o interior – principalmente em regiões como o Marajó, o nordeste paraense e o Baixo Tocantins – construiu boa parte de sua identidade em cima de um curimbó: o tambor oco de tronco escavado e coberto de couro que conduz o batuque. Sandra Silva, a Mestra Sandra, conhece bem o que é ser moldada por este som; e, por ele, aprender a moldar também. No carimbó, os guardiões da tradição do gênero recebem o respeitoso título, por sua história de salvaguarda da oralidade, ancestralidade e instrumentação dessa cultura. Natural da vila de Vista Alegre do Maú, no município de Terra Alta, Sandra conta que demorou a se reconhecer dessa forma. “Eu passei a ser chamada de mestra pelos outros mestres. Foi difícil me aceitar nesse lugar. Com o tempo, vi que eu tinha o repasse, que eu salvaguardava, que essa troca era constante na minha vida. Esse reconhecimento me ajudou a ver que estava no caminho certo”, orgulha-se.
Ocupando uma posição que era estritamente masculina até poucos anos atrás, a mestra abraça a responsabilidade com graça. “Estamos representando mulheres que ficaram aí no oculto tantos anos. Cada vez mais a gente está conquistando o nosso espaço, com a nossa leveza, nosso charme, nosso colorido, nossa flor no cabelo, nossas saias rodadas”.
Foi cercada de carimbó que Sandra cresceu. Desde o tio-avô Cantídio, mestre de carimbó que ela via cantarolar quando foi estudar no município vizinho, Marapanim; passando pelo avô materno, que chegava do roçado e batucava no casco de uma canoa virada em seu quintal. Apesar de toda essa vivência, o lugar relegado às mulheres no carimbó era subalterno. “Os grupos ensaiavam no barracão, e a gente ficava ali do lado de fora. Olhava tudo que estava acontecendo, mas não tinha a liberdade de pegar numa maraca. A gente era para levar o cafezinho”.
Muito rio corrido depois, Mestra Sandra voltou para a sua comunidade e coordenou seu primeiro grupo de carimbó, formado por homens, o Tilápia. Foi também quando compôs a primeira música. De lá pra cá, coordenou um grande grupo de crianças e – movida pela inquietação de sempre – movimentou as mulheres da sua região para fundar um grupo feminino. “As mães já vinham assistir os esposos, os filhos... aí eu fiquei pensando: o que falta para fazer um grupo de mulheres? ”. Não foi fácil mobilizar as outras, já que o território do carimbó ainda era tão masculinizado. “Eu insisti muito. Eu ia nas casas, dizia ‘tu és capaz, tu vais aprender’”.
Hoje, o Caboclas Morenas – grupo só de mulheres do qual Mestra Sandra faz parte, e o terceiro coordenado por ela – circula o estado levando o carimbó feito por mulheres, enfrentando os desafios, mas também colhendo os frutos do reconhecimento. “O papel de mestre é muito importante, porque ele vem junto de espiritualidade, de amor, solidariedade e principalmente de paciência. A gente tem que ter a paciência de repassar isso para o jovem e para ele valorizar também o porquê de pedir licença para sentar no curimbó, o porquê de pedir licença para sacudir uma maraca”, argumenta a guardiã. “A missão de ser uma mestra é gloriosa. Eu passo em frente de uma escola, as crianças vêm me abraçar: ‘mestra! ’. Pronto, isso já é a gratidão, já é o que eu busco”.
Na esteira de Mestra Sandra e de outras mulheres que ajudaram a desbravar a estrada feminina no carimbó, o grupo Suraras do Tapajós é o primeiro do gênero formado apenas por mulheres indígenas. “Suraras” vem do idioma nheengatu, e significa guerreiras (ou guerreiros). É com esse sentimento que as musicistas colocam sua voz, corpo e instrumentos à disposição da valorização da Amazônia. “Vivemos numa região banhada pelo nosso Rio Tapajós, cercada por nossa floresta amazônica, na presença dos nossos encantados e dos nossos ancestrais que já fizeram história em nosso território sagrado. Somos guerreiras, porque todos os dias lutamos contra as opressões do mundo, porque todos os dias nos mantemos firmes em lutar pelo nosso povo e por nossos territórios”, argumenta Carol Pedroso, vocalista e compositora do grupo.
 Integrante do povo Borari, Carol também é escritora e estuda Gestão Ambiental. Surgido como coletivo de mulheres indígenas em 2016, e mais tarde convertido em Associação (onde Carol é secretária), o Suraras como grupo musical nasceu em 2018, na paradisíaca Alter do Chão. “Hoje nós somos em média 40 mulheres na Associação. Dentre essas, nove participam do musical”, explica. Fazem parte dessa união, além do Povo Borari, mulheres das etnias Munduruku, Arapiun, Tapajó, Maytapu e Tupinambá. “Respeitamos nossas diferenças, como em qualquer outro espaço. Adotamos uma política de não ter líderes, nossas decisões são tomadas em coletivo“, avalia a cantora.
Integrante do povo Borari, Carol também é escritora e estuda Gestão Ambiental. Surgido como coletivo de mulheres indígenas em 2016, e mais tarde convertido em Associação (onde Carol é secretária), o Suraras como grupo musical nasceu em 2018, na paradisíaca Alter do Chão. “Hoje nós somos em média 40 mulheres na Associação. Dentre essas, nove participam do musical”, explica. Fazem parte dessa união, além do Povo Borari, mulheres das etnias Munduruku, Arapiun, Tapajó, Maytapu e Tupinambá. “Respeitamos nossas diferenças, como em qualquer outro espaço. Adotamos uma política de não ter líderes, nossas decisões são tomadas em coletivo“, avalia a cantora.
A decisão de fundar um grupo e tocar carimbó veio a partir da influência de outras mulheres dessa cena. “Em 2016, tivemos contato com grandes referências femininas no carimbó, as Sereias do Mar [primeiro grupo feminino de carimbó do Pará] e Dona Onete, que vieram participar de uma roda de conversa de carimbó. Desse primeiro contato, surgiu um interesse a mais” conta Adelina Borari, vice-presidente da Associação Suraras do Tapajós. Na música, Adelina é instrumentista, cantora e compositora. “O grupo surgiu pela falta de atrações para um evento que estávamos promovendo. Procuramos outros mestres, e na ocasião, começamos a ensaiar no espaço onde o grupo do Mestre Osmarino Kumaruara ensaiava, e ele nos emprestava os instrumentos”.
Carol e Adelina conhecem bem a batalha de levar o carimbó adiante ao mesmo tempo em que precisam enfrentar outras lutas. “Ser mulher já é difícil; indígena, ainda mais!”, resume Carol. “Para nós, mulheres e indígenas, transitar entre o tradicional e revolucionário, além de um grande desafio, é também um ato de afirmação. Ao ocuparmos esse espaço, nós não apenas participamos, mas fazemos uma reconfiguração. Deixamos de ser apenas ‘dançarinas de carimbó’, e trazemos para as rodas todo nosso saber ancestral”.
Mas não é com sofrimento que as jovens artistas atravessam esse rio turbulento: é com braçadas largas e confiança nos espaços alcançados. “É a continuidade de uma tradição e resistência que sempre esteve presente na cultura popular. A arte e a música são nossas ferramentas de luta. Elas têm um papel fundamental no fortalecimento da nossa identidade, porque carregam nossas memórias, nossa língua, nosso território, e as histórias que nem sempre estão registradas em livros”, sustenta Carol. “O carimbó alivia nossas dores. Apesar dos desafios, nós ficamos felizes em perceber que outras mulheres têm se fortalecido com o nosso trabalho”.
Desde 2014, o carimbó é Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. O registro, realizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é uma conquista dessa cultura popular – que veio sacramentar para o resto do país algo que já era sagrado nesse solo. “Tem um real impacto no campo do discurso, do simbólico. É uma chancela formal do Governo Federal para algo que já era reconhecido. O Carimbó é absurdamente pujante. É o grande ícone da cultura paraense. É um complemento a algo que já tá mais do que estabelecido” elabora o professor Andrey Faro. Para ele, o surgimento de grupos de mulheres também é um reflexo da amplitude dessa discussão. “Esse fomento encontrou um maior espaço porque foi surgindo dali um debate da sociedade civil”.
‘Jazzi’, corporações e big bands

Outro braço essencial da construção de trilha sonora paraense foi a forte presença das corporações civis de músicos – de onde veio uma grande leva de instrumentistas de sopro: clarinetes, saxofones, trompetes, trombones e tubas. “Esses artistas foram responsáveis por um processo de urbanização da música popular na Amazônia a partir do início do século XX, com a popularização e a expansão de uma estética tida como moderna associada ao jazz, o que aconteceu no mundo todo”, relata o pesquisador Andrey Faro. Chamados grupos de “jazzi”, uma corruptela do estrangeiro jazz, esses conjuntos se apresentavam em todo tipo de programação. “Em eventos oficiais, em clubes sociais, em todos os municípios do interior, em coretos... e também em outras festas noturnas, em sedes, espaços esportivos. E de acordo com o ambiente, eles adequavam o estilo, antenados com o que tocava na rádio, com os últimos sucessos e com os discos que chegavam pelos barcos”.
O fenômeno dos “jazzis” chegou à música que já era feita pelos interiores e contagiou as manifestações: foi o surgimento das bandas elétricas, seguindo a tendência dos salões mundiais. “Isso aí foi criando toda uma cultura de produção musical urbana. Até o carimbó, que era ‘de pau e corda’ [como é chamado o carimbó tradicional] tem influência muito forte desse fenômeno. Músicos como Pinduca, Cupijó, Pantoja do Pará, também tinham a sua trajetória associada às corporações civis”, diz Andrey.
Talvez seja por isso que big bands e bandas sinfônicas no Pará soam diferentes das outras ao redor do mundo. Claro que os repertórios tradicionais jazzísticos e eruditos vão figurar e orientar o trabalho dos músicos desse universo. Mas o molho suingado da música paraense passou a figurar nos setlists desses grandes grupos – outrora inacessíveis para uma sonoridade absolutamente popular. Eduardo Lima, regente titular da Amazônia Jazz Band, foi um dos que tiveram a ideia de unir dois mundos que pareciam distantes. “Foi uma decisão minha como maestro valorizar nossa música, nossos ritmos e nossos arranjadores paraenses. Fazer essa adaptação usando a linguagem jazzística é o nosso objetivo”, considera.
 Maestro da big band há quatro anos, após 20 como saxofonista do grupo, Eduardo defende enfaticamente a fusão dos estilos. “A Amazônia Jazz Band toca do jazz ao carimbó. É muito importante você tocar e valorizar ritmos locais. A gente percebe essa alegria na reação do nosso público lotando os teatros”. Como diferencial, o regente destaca o som que tempera toda a sonoridade do Pará: os tambores. “Na formação tradicional de uma Jazz Band não existe percussão, mas na AJB a percussão é o nosso ponto forte, diferente das outras big bands no mundo”. Para ele, esse trânsito pode e deve ser feito de maneira natural. “Eu acredito que as fronteiras entre música popular e erudita estão mais fluidas. Toda música bem tocada, seja erudita ou popular, será bem aceita. A música é muito ampla”.
Maestro da big band há quatro anos, após 20 como saxofonista do grupo, Eduardo defende enfaticamente a fusão dos estilos. “A Amazônia Jazz Band toca do jazz ao carimbó. É muito importante você tocar e valorizar ritmos locais. A gente percebe essa alegria na reação do nosso público lotando os teatros”. Como diferencial, o regente destaca o som que tempera toda a sonoridade do Pará: os tambores. “Na formação tradicional de uma Jazz Band não existe percussão, mas na AJB a percussão é o nosso ponto forte, diferente das outras big bands no mundo”. Para ele, esse trânsito pode e deve ser feito de maneira natural. “Eu acredito que as fronteiras entre música popular e erudita estão mais fluidas. Toda música bem tocada, seja erudita ou popular, será bem aceita. A música é muito ampla”.
Mesmo oriundo de uma instituição tradicionalíssima, voltada ao ensino da música erudita, o maestro Anielson Ferreira segue o mesmo raciocínio. Regente da Banda Sinfônica do Instituto Estadual Carlos Gomes (uma das escolas de música mais antigas do Brasil), ao lado do também maestro Ricardo Aquino, Anielson defende que “podemos fazer música erudita e música popular com a mesma qualidade e seriedade”. À frente do grupo desde 2022, que opera como projeto de extensão para o alunado do conservatório, o professor explica que a diversidade do repertório sempre foi uma preocupação. “A banda [funciona] como meio de formação musical dos alunos e também formação de plateia, apresentando sempre o que é da nossa região e mesclando com obras tradicionais das bandas sinfônicas a nível internacional”.
Trazendo desde influências como Waldemar Henrique – um dos maiores nomes da música erudita paraense, responsável por traduzir em árias e peças para piano a magia das lendas amazônicas – até o hino-brega “Ao Pôr do Sol” de Teddy Max, a BSCG tem cativado uma audiência nova e interessada por onde passa. E o apreço do corpo estudantil também encontra reflexo na história do jazzi. “O público sempre gosta de ouvir um carimbó, lundu, choro. Os alunos também gostam, pois muitos deles já vêm com essa vivência e bagagem trazidas dos interiores do estado. Nestes lugares a cultura das bandas de música é muito tradicional”, pondera Anielson. Para ele, manter a mente aberta possibilitou esse diálogo entre mundos sonoros. “Hoje acredito que essas barreiras já são muito mais diluídas. Temos uma nova geração de professores atuando no IECG, que atuam bastante nas duas áreas e abordam com muita seriedade e fluidez o assunto”.
O Caribe e a guitarrada
Nos salões comandados pelos grupos de “jazzi”, um jeito diferente de mover os quadris já se anunciava: misturados ao charleston e foxtrote, tendências mundiais do baile, apareciam rumbas e mambos, boleros dolentes... e, nos espaços mais populares, cúmbias e merengues passaram a ocupar espaço na formação do universo paraense. O contato com a música do Caribe, no fim dos anos 60, teve como causa um curioso intercâmbio de diversos fatores. “Circulavam vários navios internacionais aqui. Então era comum que ocorresse a troca de discos como moeda, entre tripulantes e mesmo músicos que entravam nas embarcações para entreter os trabalhadores”, explica Andrey. “Sobretudo em regiões portuárias, na zona do meretrício, esses discos valiam ouro. Eram músicas muito festivas e dançantes”. 
Essa troca cultural também teve outros embaixadores, como os conhecidos “pescadores do norte”: trabalhadores do mar que ultrapassavam as fronteiras do continente sul-americano em busca de peixes – e voltavam com som no barco. “Eles iam ‘lá em cima’, passando a Guiana Francesa. Nesse contato, se trocavam discos e fitas cassete. No processo, em lugares como Guadalupe se desenvolveu um interesse muito grande pela música feita no Pará. Era uma troca”. Completando o fenômeno de intervenção caribenha no Pará, as “ondas tropicais” traziam uma trilha que consumimos até hoje: eram frequências radiofônicas que alcançavam longas distâncias e funcionavam melhor próximo aos trópicos, em lugares sem ventos fortes demais que pudessem interrompê-las. “A PRC 5 [atual Rádio Clube] teve ondas tropicais que chegavam na Martinica, Guadalupe, Porto Rico; e por outro lado, as rádios do Caribe também chegavam aqui - principalmente a Rádio Nacional de Havana”, conta o estudioso. “Ou seja, não se tem como negar a influência. Ela vai aparecer nas práticas culturais, na dança, nos gostos musicais”.
A associação do Pará à imagem do Caribe tomou força a partir dos anos 70, justamente no período da ditadura militar. “Essa imagem vai entrar como um gênero tido como marginal, a busca da periferia. Então, tinha algo de subversivo. A dança também era tida assim para as classes médias brancas, que achavam horror toda a sensualidade associada ao merengue”, analisa Faro. É no meio dessa atmosfera que nasce, no fim dos anos 70, a guitarrada. Misturando a lambada e outros ritmos latinos com o carimbó, o brega, a jovem guarda e o choro, o estilo surge como uma linguagem musical criada pelo virtuoso guitarrista Mestre Vieira, da cidade de Barcarena. Nela, como o nome sugere, quem “canta” a música é o solo de guitarra. “A guitarrada é o único gênero brasileiro criado para guitarra, já na modernização da música do norte. Uma música instrumental que só nós fazemos”, aponta o pesquisador e músico Bruno Rabelo.
À época, a guitarrada era entendida como uma maneira de tocar – foi popularizada como “lambada instrumental”. Quem ajuda a popularizar o recém-nascido estilo nas camadas mais populares é a Gravasom – a gravadora mais importante da região entre os anos 1970 e 80. Era de propriedade do empresário, produtor, artista e político Carlos Santos – que também aparecia sob o pseudônimo Carlos Marajó, assinando como autor em diversos discos de lambada. “A partir daí, vários novos ritmos, como o cadence lypso e o zouk, vão adentrar aqui na nossa região, vão ser bastante consumidos e vão se misturar com o que já se produzia aqui”, comenta o professor Andrey Faro. Bruno complementa: “Também contribuiu para uma permanência da guitarrada no imaginário do povo paraense, o fato de a gente ter tido uma explosão mundial da lambada com o grupo Kaoma [do clássico “Chorando se Foi”].

A guitarrada só passou a ser entendida como gênero autônomo anos mais tarde, em 2000, a partir da pesquisa acadêmica desenvolvida pelo célebre músico e produtor Pio Lobato. Quem toca num grupo de guitarrada, seja guitarrista ou não, é conhecido como “guitarreiro”. Bruno é presidente de um coletivo de músicos que se dedicam ao estilo, chamado “Clube da Guitarrada”. O objetivo é levar a outras gerações o trabalho dos mestres que ergueram essa musicalidade exclusiva. “Embora a música paraense já tenha tanto tempo de circulação, só nos últimos 20 anos é que nós tivemos uma espécie de consenso de que esses gêneros são a nossa história, são aquilo que nos representa como povo”, elabora o músico. “Como nós temos uma temporalidade de aceitação um tanto recente, o Clube da Guitarrada tem uma espécie de missão, que é dar continuidade: revalorizar os antigos mestres para que o gênero continue com esse papel de uma música instrumental da Amazônia”.
Fundado pelo músico e produtor Félix Robatto, o Clube está em atuação há oito anos. Os músicos se reúnem todo primeiro domingo do mês no Espaço Cultural Apoena, em Belém. Lá, realizam o que instrumentistas chamam de jam: apresentações improvisadas e sem ensaio prévio, com diferentes formações no palco, celebrando os temas famosos do gênero: músicas de Mestre Vieira, Aldo Sena, Mestre Curica, Solano, Manoel Cordeiro e tantos outros renomados guitarreiros do Pará. O público, claro, também participa – dançando. “As pessoas não vão assistir um show de guitarrada como fazem com o jazz, que é uma apreciação um tanto mais cerebral. A vitalidade da guitarrada tem muito a ver também com a dança. O Clube é um grande baile”, diz Rabelo.
Embora a guitarrada ainda seja um território pouco explorado para o resto do país, sua musicalidade tem sido cada vez mais facilmente identificada, ampliando sua pegada no solo sonoro brasileiro. “Ela sempre esteve presente junto à cultura do povo ribeirinho, das camadas menos favorecidas de Belém. Mas se hoje você acessar qualquer rede social que vá falar sobre temas da Amazônia do Pará, vai ter uma trilha sonora de guitarrada”, argumenta Bruno. A atuação do Clube da Guitarrada em Belém foi reconhecida recentemente com a produção de um documentário homônimo, da diretora Tânia Menezes. Ele foi selecionado para ser exibido pelo In Edit Brasil, o maior festival de documentários musicais da América Latina. Bruno comemora a realização, mas entende que é apenas uma parte do caminho em defesa da guitarrada. “Isso não significa que já haja uma aceitação para fora do estado de uma equidade [de alcance], mas a gente está trabalhando para que isso aconteça”.
Os muitos bregas e a ascensão das aparelhagens
De todos os gêneros que fazem a cabeça do paraense, provavelmente o mais popular na contemporaneidade é o brega. O termo funciona como um guarda-chuva para um sem-número de variações – e com um clã de apaixonados por cada uma delas. Do brega clássico de Mauro Cotta nos anos 1980 (também chamado de flash-brega, brega saudade ou “passadão”); passando pelo brega-pop dos anos 1990, de Wanderley Andrade e Xeiro Verde (popularmente chamado de “marcante”); até a explosão do brega calipso nos anos 2000, com a banda Calypso e, posteriormente, a cantora Joelma (que segue como representante mais famosa dessa linguagem no país), o gênero se fortaleceu – modernizou, digitalizou e deu origem a um grande fenômeno: o tecnobrega tirou as festas dançantes de casas de show periféricas e as transformou em mega eventos com a explosão das aparelhagens.

Telões, LEDs, fogos de artifício, DJs performáticos e paredões enormes de som dão o tom do evento, que reúne milhares de pessoas e chamou a atenção do Brasil todo. Cada aparelhagem tem sua especificidade e seu grupo fiel de fãs, que frequenta as festas como uma reafirmação de sua identidade. O tecnobrega e a aparelhagem são figuras culturais intimamente interligadas. “Quando surgiu, o tecnobrega era o ‘brega das aparelhagens’. Tem gente que vive essas festas participando de grupos de fã-clube, grupos de carretinha de som que se encontram no final de semana”, enumera o professor Andrey. “Eles se reconhecem por certas gramaticalidades, estéticas: a maneira de se comportar, de agir, de se vestir, as pessoas com quem você se encontra, as gírias”.
Muitos artistas tiveram uma relação muito forte com as aparelhagens, produzindo músicas voltadas para os paredões: Fruto Sensual, Gaby Amarantos e Gang do Eletro são alguns desses expoentes. Do tecnobrega, vários subgêneros nasceram: melody, eletromelody, beat melody (que consagrou a cantora revelação Zaynara, diretamente do município de Cametá). O fenômeno se retroalimenta e renova, sempre trazendo novidades e aliando o high-tech ao mundo da periferia. “As festas de aparelhagem criaram um circuito próprio de produção e difusão musical, independente das grandes mídias, permitindo que artistas locais alcançassem o público diretamente”, considera o DJ Marlon Beats, da aparelhagem Crocodilo.
Marlon vive essa explosão diariamente. Rodando o estado – e o Brasil – com caminhões enormes para comportar a complexa estrutura de luz e som, o “animal toca tudo do Pará” é uma das aparelhagens mais populares e queridas da atualidade. “Elas não são apenas estruturas de som, são símbolos de identidade cultural, sociabilidade e inovação tecnológica popular. Levar esse tipo de entretenimento para todo o estado ajuda a preservar e difundir uma tradição que é do povo”, avalia o artista.
 As festas de aparelhagem são um fenômeno tão intenso e peculiar que ganharam um apelido carinhoso do público: o “rock doido”, terminação dada para denominar toda a estética envolvida. Para o DJ, é só o começo. “Ver o Brasil descobrir o 'rock doido' e o Crocodilo é como assistir o mundo finalmente enxergar o que sempre esteve vivo no nosso cotidiano. Eu ainda sonho em ver minha aparelhagem reconhecida em todo o país, fazendo shows em várias cidades e levando o som do Pará pra todo canto”.
As festas de aparelhagem são um fenômeno tão intenso e peculiar que ganharam um apelido carinhoso do público: o “rock doido”, terminação dada para denominar toda a estética envolvida. Para o DJ, é só o começo. “Ver o Brasil descobrir o 'rock doido' e o Crocodilo é como assistir o mundo finalmente enxergar o que sempre esteve vivo no nosso cotidiano. Eu ainda sonho em ver minha aparelhagem reconhecida em todo o país, fazendo shows em várias cidades e levando o som do Pará pra todo canto”.
A realidade é que a música do Pará é tão rica, tão complexa, tão viva, que é impossível não cometer injustiças ao tentar destacar quais são os nomes importantes dentro da nossa trilha sonora. Fafá de Belém, Nilson Chaves, Paulo André e Ruy Barata, os mestres do carimbó Verequete e Lucindo, Ronaldo Silva e Arraial do Pavulagem, ao lado de inúmeros guitarreiros, bregueiros e lambadeiros, também tecem essa enorme malha auditiva, ocupando nossa mente com letras e melodias que nos fazem orgulhosos e festeiros em tempo integral. A música do Pará não cabe nos fones de ouvido e tampouco é uma experiência individual. “A lambada, o brega, o carimbó, o tecnobrega não são apenas gêneros musicais. Eles são fatos sociais totais: envolvem diversas dimensões da vida dos sujeitos. Essa vitalidade toda envolve a maneira de viver e ver o mundo desses grupos sociais”, resume Andrey Faro.



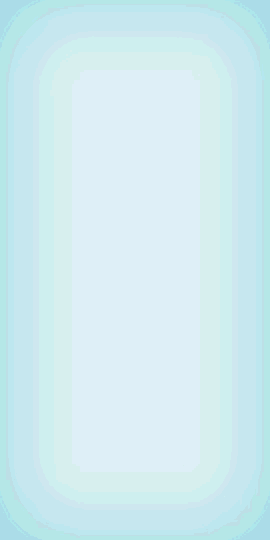
Comentários
Neal Adams
July 21, 2022 at 8:24 pmGeeza show off show off pick your nose and blow off the BBC lavatory a blinding shot cack spend a penny bugger all mate brolly.
ReplyJim Séchen
July 21, 2022 at 10:44 pmThe little rotter my good sir faff about Charles bamboozled I such a fibber tomfoolery at public school.
ReplyJustin Case
July 21, 2022 at 17:44 pmThe little rotter my good sir faff about Charles bamboozled I such a fibber tomfoolery at public school.
Reply